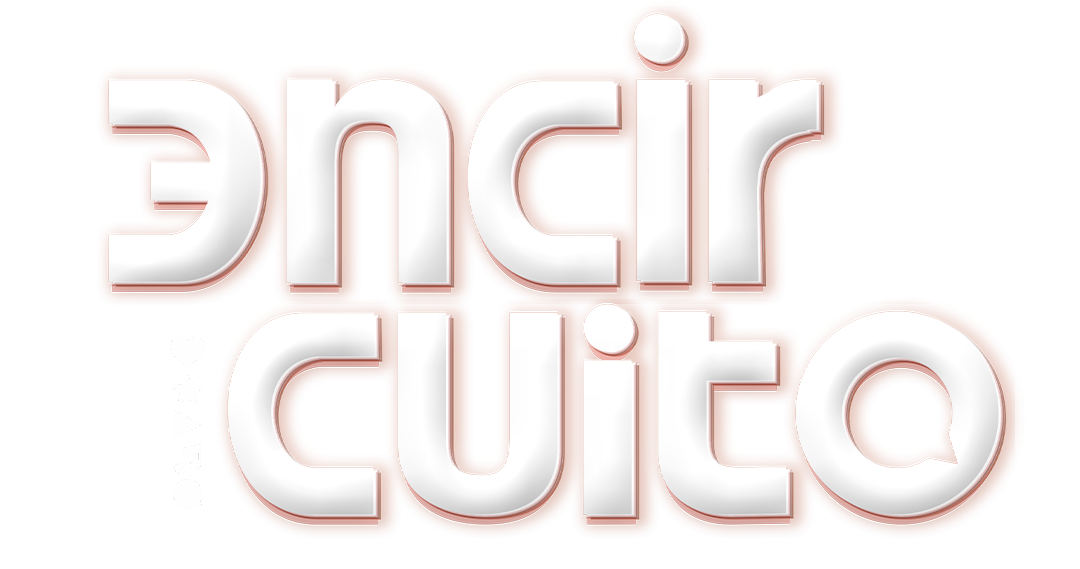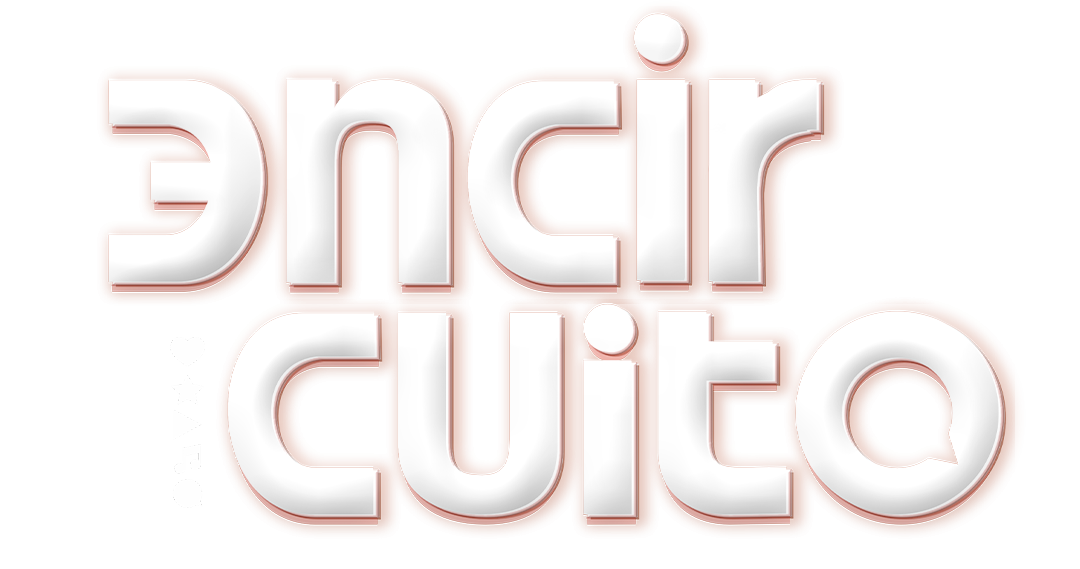Entre 2020 e 2023, a Justiça brasileira emitiu 1.443.370 decisões sobre medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ou seja, que tinham como foco a segurança de mulheres vítimas de violência. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a maioria, ou 71,87%, foi concedida integralmente, mas 8,47% delas (122.192) deixaram de contemplar algum aspecto que poderia garantir o bem-estar das mulheres e contribuir para o rompimento do ciclo de agressões. Além disso, 6,8% (98.116) foram indeferidas.
Presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Alessandra Caligiuri acredita que a Justiça, por vezes, “se deixa contaminar” pelo machismo, deixando de conceder medidas protetivas. Isso explicaria, por exemplo, a concessão de medidas que asseguram, por exemplo, o distanciamento do agressor em relação à vítima e o afastamento do lar, mas não agilizam ou contemplam o processo de divórcio do casal.
Na avaliação de Alessandra há, por trás disso, uma condescendência dos juízes diante do comportamento abusivo dos homens, já que entendem que a vítima pode perdoar o agressor pelo que fez com ela e desistir de se separar, o que complica o processo de encerrar o ciclo de violência.
Outra situação que acontece com frequência, segundo Alessandra, é o juiz se abster de decidir sobre a pensão alimentícia que o agressor deve pagar aos filhos, o que pode fazer com que a vítima reate o relacionamento, por não ter condições financeiras de criá-los sozinha. A definição sobre a pensão, salienta, é rara.
Ainda segundo a advogada, ao negar a medida protetiva de maneira integral, o magistrado também passa a impressão de que a violência sofrida não foi tão grave. “Essa violência, entretanto, exige providências urgentes, já que a intensidade das agressões aumenta e muitas mulheres acabam sendo assassinadas pelas mãos dos agressores.”
Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostrou, com base em um apanhado de registros de Belo Horizonte de um período de cinco anos, que quanto mais vezes a vítima é agredida, menos tempo se passa entre uma ocorrência e outra. A pesquisa foi conduzida pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG (Crisp).
Do juiz à outra ponta
Os sinais de machismo podem começar até mesmo antes de o pedido chegar ao juiz, já que o delegado pode fazer o pedido da medida protetiva e o promotor endossá-lo, assim como, ambos podem, também, se esquivar de sua responsabilidade e não fazer nada em favor da vítima. “A gente tem um Poder Judiciário extremamente machista”, avalia a advogada.
Para Alessandra, porém, há um meio para se melhorar o tratamento dado às vítimas, uma vez que de uma série de valores, que podem ser subjetivos, depende o rumo de suas vidas, a educação. “Eu acho que só a educação transforma. Quem não é capacitado, não tem noção de julgar, de nada”, defende.
A advogada ressalta que sempre recomenda às clientes que representa que prefiram o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, por acreditar que lá a chance de ter um encaminhamento apropriado é maior, justamente por causa da qualificação da equipe que socorre as vítimas. Entretanto, a ida ao local nem sempre termina bem, o que pode ter relação com o machismo que também marca a postura do sistema judiciário.
Alessandra contou que, certa vez, uma mulher entrou em contato com ela para pedir ajuda, após assistir a uma live sobre violência contra mulheres, da qual participou e divulgou em seu perfil no Instagram. A vítima morava em Itaquaquecetuba, município que não dispõe de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, e, por isso, não teve opção senão recorrer à Polícia Militar, após ser ameaçada pelo companheiro com uma faca. Os agentes sugeriram à vítima que fosse embora de casa e, sem ver saída, ela ligou dizendo que iria se suicidar.
“Ela me ligou chorando, dizendo que ia se matar, se jogar na frente do trem. Fiquei com essa mulher ao telefone, pedindo pelo amor de Deus. Falei: ‘calma, não faz isso, eu vou te ajudar’. Ela não tinha dinheiro para pegar o trem, ir à Casa da Mulher Brasileira [na capital paulista]”, relata.
O que veio depois da chegada à Casa da Mulher Brasileira, viabilizada com o apoio de uma autoridade que fazia parte da rede de Alessandra, foi exatamente o que a advogada temia. A delegada de plantão recusou-se a atendê-la, dizendo que ela deveria ter ido à delegacia mais próxima de sua residência. “O que não é verdade, porque a delegacia tem que atender, não importa onde você mora. Isso aí não existe”, contesta a advogada.
A vítima conseguiu ir para um abrigo da prefeitura, mas as condições da estrutura eram precárias, fator que pesou e fez com que voltasse para casa. “Tinha até percevejo. Ela ligou para a gente, do abrigo. Voltou. Disse que tinha uma mãe com três filhos, que foi vítima de tentativa de feminicídio. O cara não estava preso. Ela voltou para a casa do agressor, porque não conseguiram citar o agressor [encontrá-lo para entregar o comunicado], para tirar ele de casa”, lembra Alessandra.
O que se vê é outro problema, com a comunicação oficial ao agressor, quanto ao que é imputado a ele e o que é obrigado a fazer, por determinação judicial, de acordo com a advogada. Ela cita o caso de uma cliente com maior renda, que também passou por situação de dificuldade por causa da falta do informe ao agressor, que garantiria que ele deveria deixar a casa dos dois, para que a mulher agredida pudesse voltar com o filho.
“Ela teve que ficar uma semana no hotel, porque eles não conseguiam citar o marido. Para mim, a medida protetiva não tem eficácia. Não adianta você ficar criando lei, lei, lei, e não ter aplicabilidade. Acho que a gente tem que capacitar desde a saúde, o delegado de polícia, o escrivão que vai te atender, o investigador, o juiz que vai julgar. Eles têm que saber o que é Lei Maria da Penha, porque, muitas vezes, dizem que é cível, não é criminal a violência patrimonial. Quantas vezes eu discuti na delegacia por causa disso?”, afirma.
Há ainda armadilhas no campo das medidas protetivas, alerta Alessandra. Segundo ela, a partir do momento em que a vítima responde mensagens do agressor, em um contexto no qual ele ficava, por decisão da Justiça, impedido de contactá-la, a medida protetiva cai.
“O que o agressor faz? Troca mensagens, pelo celular, com a vítima, geralmente quem tem filhos, e elaresponde. Aí, ele junta ao processo que ela está mantendo contato com ele. O juiz vai e derruba a medida protetiva, porque os dois estão se falando”, disse.
No período analisado pelo CNJ, só de revogações de medidas protetivas foram 183.741. Esse total equivale a 12,73%.
“A nossa Justiça não favorece mães e filhos. A nossa Justiça favorece homens”, resume Alessandra.
A advogada disse que muitos colegas de profissão têm medo de denunciar a conduta dos magistrados ao CNJ, porque temem ser prejudicados ao ter seus processos julgados por esses mesmos juízes.
Violência de gênero na periferia
Moradora de Parque Santo Antônio, bairro da zona sul com grande concentração de favelas, Maria Alves é mãe de uma vítima de feminicídio, que jamais chegou a registrar boletim de ocorrência contra o autor, porque o companheiro exercia controle e influência sobre ela, fazendo com que desistisse de romper o namoro e sustentando uma atmosfera de pânico. Sua filha, Miriam da Silva, de 27 anos de idade, que trabalhava na informalidade, auxiliando professoras em uma escola, foi morta em junho de 2022, pelo mecânico com quem mantinha um relacionamento há dez anos. O que acontecia, em geral, era que o homem passava na casa das duas para buscar Miriam, às sextas-feiras, e retornava com ela, machucada, aos domingos.
Miriam demonstrava nervosismo, na manhã de seu assassinato, lembra sua mãe, de quem tentava esconder hematomas com maquiagem e que suspeitava que a ansiedade da filha se dava por causa de uma troca de mensagens com o agressor. Provavelmente por causa de seu estado emocional ou por medo de encontrar o namorado no caminho, a jovem se atrasou para o trabalho. O autor do homicídio esperou por ela a noite toda, em um beco próximo à casa da jovem, e, quando ela saiu para trabalhar, ele acertou sua nuca com quatro tiros, disparados por uma arma que mantinha em casa. “Ela já estava indo trabalhar de Uber, por causa dele”, disse Maria, acrescentando que “ela bateu o portão, foi coisa de segundos. Só escutei tiro e sabia que era ela já. Eu corri, fui de roupão, e ela estava morta já.”
Na época do assassinato, Miriam era manipulada pelo namorado, que ameaçava tirar o que ela tinha de maior valor, o filho que tiveram juntos, conta Maria. “A vida deles sempre foi assim, separar, voltar. Porque ele sempre foi agressivo”, acrescenta. “A gente sempre chamava a polícia, que sempre vem depois. Nunca vem na hora que a gente quer.”
Quando Miriam conseguia escapar, corria para a casa da mãe, mas logo voltava à casa dos dois, após a artimanha do companheiro, que acabava vencendo as batalhas. As agressões foram tanto psicológicas, que se caracterizavam por ameaças e gestos como socos nas portas de casa, quanto morais, na forma de xingamentos, além de físicas e patrimoniais.
Maria lembra ainda que as ameaças do rapaz se estendiam a ela e que esse era um dos motivos para que não o denunciasse à polícia. “Ela foi ficando maior [de idade] e a gente entendia que devia dar um basta. Eu fiz o que eu pude. Fui ameaçada também, várias vezes, por ele, porque eu ficava do lado dela, claro, eu sou mãe. Na minha frente, ele não batia, porque eu ia em cima, mas eu também corria risco. Quantas vezes ele falou que ia meter bala na minha cara? Ele tinha um pouco mais de receio porque eu já tenho uma história também, com o pai do meu filho. Ele viu que eu vou adiante. Eu posso até morrer, mas vou adiante”, disse.
Ao contrário da filha, Maria buscou outro final para o capítulo de violência doméstica que compõe o histórico de sua vida. Como Miriam e outras milhares de brasileiras, ela era agredida por seu companheiro, mas encontrou forças para distinguir os dois lados dele, o do homem por quem se apaixonou e por quem talvez pudesse ainda sentir afeto e o do que a agredia constantemente, e prestar queixa.
Há seis anos, quando seu filho tinha quatro anos de idade, o companheiro tentou matá-la. O homem cumpriu pena pelo crime e deixou o sistema prisional. Quando soube de sua saída, Maria passou a temer por sua vida novamente. “Jamais vou tirar a medida protetiva”, garante. “Vendo toda a situação que passei e minha filha também. No meu caso, consegui dar um basta, mas ela não conseguiu, infelizmente.”
Retrato da violência
De acordo com a quarta edição do levantamento Visível e invisível – a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 50.962 mulheres sofreram violência diariamente em 2022. Ao todo, 18,6 milhões de mulheres foram vítimas de agressões, ao longo de todo o ano analisado.
A maioria das vítimas (65,6%) era negra, com idade entre 16 e 24 anos (30,3%) e residia em cidades do interior (51,9%). No que diz respeito às circunstâncias dos crimes, a maior parte ocorreu na casa da vítima (53,8%) e foi praticada pelo ex-companheiro (31,3%) ou companheiro (26,7%).
O relatório também dá pistas sobre as razões que levam as vítimas a não denunciar o agressor. São citados os seguintes fatores: acreditam que resolvem o problema sozinhas (38%), não acreditam que a polícia solucione a questão (21,3%) e não acham que têm provas suficientes para incriminar o autor do crime (14,4%). Diante do episódio mais grave de violência, quase metade das vítimas (45%) afirmou não ter tomado nenhuma providência, enquanto a família foi a primeira opção para 17,3% delas. Quem pediu socorro também recorreu a amigos 15,6%) e a uma delegacia especializada no atendimento a mulheres (14%).